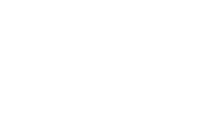Dentre os vários gargalos com os quais o setor produtivo do país tem de conviver, a falta de uma decisão definitiva em relevantes questões tributárias é um dos que mais preocupam o agronegócio. Em um emaranhado de leis, instruções normativas e outras regras fiscais, empresas do setor e produtores rurais esperam uma palavra final que dê garantias jurídicas aos seus negócios e, mais do que isso, os resguardem de pagar a conta por práticas que, quando adotadas, eram consideradas legítimas.
Correm nos tribunais, por exemplo, discussões jurídicas a respeito do recolhimento do Funrural (uma espécie de contribuição previdenciária específica para o trabalhador rural), formas de crédito presumido para PIS/Cofins ou desonerações. Parte desses debates se deve à complexidade do setor agrícola e uma consequente incompreensão de algumas de suas características.
“A tributação no agronegócio envolve certas peculiaridades desde a própria forma como a atividade é desenvolvida na cadeira produtiva, repercutindo na forma de exigência e apuração dos tributos, mas também por questões específicas fiscais que envolvem o setor”, diz o advogado Fabio Pallaretti Calcini, que coordena a nova pós-graduação em Tributação no Agronegócio da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.
Sócio da banca Brasil Salomão e Matthes, de Ribeirão Preto (SP), importante centro do setor agrícola, Calcini acompanha de perto as questões que afetam o agronegócio. Membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) até renunciar à sua função em 2015, o advogado rejeita radicalismos ao apontar soluções para que setor possa contribuir com a retomada do crescimento da economia.
Calcini não se empolga com ideias que, se servem para inflamar discursos, não teriam grande resultado prático. Um exemplo é a adoção imposto único. “Como ajustá-lo à complexidade de diferentes setores?”, questiona para, na sequência, dizer que possível simplificar sem uma reforma tributária. Na mesma linha, aponta que muitas questões poderiam ser resolvidas com uma simples mudança de postura da Receita Federal.
O advogado também cobra mais incentivos para o setor, não só por sua relevância econômica, mas por ser essencial à vida. “Estamos tratando de produtos ligados à própria alimentação do homem”. Porém, alerta para os riscos de se tentar adotar medidas simples para problemas complexos. Um caso exemplar é da Medida Provisória 609, editada para desonerar a cesta básica, mas cujos efeitos não foram sentidos pelo consumidor final. Isso em razão, explica Calcini, da falta de entendimento de todo o ciclo produtivo.
Leia a entrevista:
ConJur — Quais são as principais discussões tributárias que envolvem o agronegócio?
Fabio Calcini — Ainda temos muitas discussões aguardando um posicionamento firme da jurisprudência, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Um exemplo é a discussão se haveria imunidade nas receitas das exportações por trading para fins de contribuição ao Funrural. Outro caso, e que não se aplica só ao setor, é o da não cumulatividade do PIS e da Cofins e suas consequências para a noção de insumo e se o ICMS entra ou não na base de cálculo.
ConJur — Quais as consequências da guerra fiscal para o setor?
Fabio Calcini — O setor sofre muito com essa questão da guerra fiscal, sobretudo nas questões ainda em aberto. O Supremo já se posicionou dizendo que incentivos fiscais não aprovados pelo Confaz são inconstitucionais. Mas quais as consequências disso? O Estado deve cobrar o contribuinte que gozou desse incentivo? Ainda há discussão no STF sobre o crédito de ICMS na cesta básica, em que as empresas do agronegócio tomavam integralmente e há o entendimento de que haveria um estorno proporcional desse crédito. Houve uma decisão do STF desfavorável e a matéria ainda aguarda modulação dos efeitos. A guerra fiscal causa preocupação pelos passivos gerados e pelas consequências de eventual inconstitucionalidade desses incentivos.
ConJur — E como conviver com isso?
Fabio Calcini — Uma das pretensões é que aqueles que gozaram do incentivo não sofram uma cobrança do passado. Ou seja, que um empreendedor que tenha investido, gerado emprego, não tenha que pagar uma receita da qual não havia qualquer previsibilidade de que ele poderia assumi-la.
ConJur — O imposto único interessa ao setor?
Fabio Calcini — O imposto único tem suas vantagens para um cenário ideal, que seria a facilidade de arrecadação, de apuração e de recolhimento. O Brasil é um dos campeões em tempo gasto com apuração e recolhimento de tributos. Mas tem o outro lado da moeda: será possível ajustar outros aspectos nas peculiaridades dos setores, como o agrícola? Não é tão simples como parece. Dá para simplificar mesmo sem reforma tributária constitucional. A unificação do PIS e Cofins já seria algo que não é tão complexo e seria um avanço muito grande.
ConJur — Em um cenário em que o governo quer arrecadar mais, isso seria possível?
Fabio Calcini — Há uma forte tendência de unificação. Eu vejo que não geraria mudança na arrecadação. Basta manter o mesmo padrão de carga tributária, mas ajudaria a simplificar a forma de apuração e de recolhimento. Isso já elimina o trabalho duplicado.
ConJur — A MP 609 foi editada para desonerar a cesta básica, mas, na ocasião, o senhor apontou uma série de falhas em seu conteúdo. Esses erros foram corrigidos?
Fabio Calcini — Foi uma medida de aplauso, mas houve um certo equívoco no estudo do impacto que ela geraria. Imaginavam que, zerando a alíquota, no final da cadeia, haveria uma redução que chegasse aos 9,25%, que é a alíquota cheia. Porém, o ciclo de produção é bem amplo, existe uma cumulatividade de tributação significativa. Boa parte do benefício ficaria represado em créditos de PIS e Cofins presumidos e que muitas empresas não teriam como utilizar no meio da cadeia. Seria preciso pensar no ciclo da cadeia toda sendo desonerada de uma forma harmônica, o que não aconteceu. Não é porque desonerou um pedaço da cadeia que necessariamente vai reduzir o preço do produto. Tem que enxergar o todo. Esse é um ponto importante da tributação no agronegócio.
ConJur — O início da cadeia produtiva, por exemplo, deve dar direito a crédito de PIS/Cofins?
Fabio Calcini — A Receita Federal entende que não. Eles entendem que essa fase não está totalmente vinculada ao produto final. Por exemplo: se na produção de açúcar e álcool eu estou produzindo cana, a Receita diz que não estou produzindo o produto final e, portanto, não há direito ao crédito. Mas o Carf, felizmente, está corrigindo isso com decisões favoráveis. Há reconhecimento do crédito na fase agrícola do setor, embora a legislação permita essa interpretação mais ampla. É preciso apenas que a Receita mude sua interpretação.
ConJur — Já está claro o que pode ser considerado insumo para cálculo de PIS/Cofins?
Fábio Calcini — Não é possível definir com certo detalhamento o que pode ser reconhecido como insumo. Mas diante de estudos, já é possível identificar que insumo é todo aquele bem ou serviço utilizado dentro do processo produtivo da empresa visando obtenção de receita. A tendência me parece ser mais ou menos essa. Alguns detalhes ainda são debatidos, como a ideia de essencialidade ou de relevância do item. O STJ iniciou um julgamento importante para discutir as instruções normativas da Receita que restringem essa interpretação, dizendo que é insumo só aquilo que integra o produto ou participa do processo produtivo a ponto de se desgastar fisicamente. A tendência é que a corte acompanhe o Carf e decida que essas instruções normativas são ilegais e reconheça uma noção mais ampla de insumo.
ConJur — E o caso de arrendamento de imóvel?
Fábio Calcini — Eu entendo que o crédito é devido. O imóvel é utilizado especificamente para fins do processo produtivo. Por exemplo: o elemento principal é a terra em que haverá a produção da cana, que vai ser o insumo principal do produto final, que é o açúcar, o álcool ou até energia que as usinas produzem.
ConJur — O arrendamento de terras é vantajoso?
Fábio Calcini — Do ponto de vista fiscal, em tese, não seria a melhor opção. Isto porque, o arrendamento não é receita de atividade rural, mas um rendimento, tributado normalmente pelo Imposto de Renda. Por isso é importante se pensar, quando possível, em um contrato de parceria. Nessa modalidade, ao contrário do arrendamento, há divisão dos riscos da atividade e o parceiro recebe com base na produtividade. Um alerta relevante é que o contrato precisa ser bem feito para não haver questionamento do Fisco a fim de considerá-lo de fato um arrendamento, alternado sua forma de tributação.
ConJur — Como funciona?
Fábio Calcini — No arredamento, tributa-se como um aluguel. Já na parceria, o produtor rural pode ser tributado de duas formas. Uma é algo parecido ao lucro real da pessoa jurídica, pois poderá o produtor pessoa física abater do imposto de renda tudo que ele tiver de despesa e custo vinculado à atividade. A outra opção é presumir que 20% de tudo que ele recebeu da atividade rural será receita tributável e aplicar a alíquota progressiva, que vai até 27,5%. Por exemplo: se o produtor pessoa física recebeu R$ 10 milhões, aplica-se a presunção de 20%, reconhecendo uma receita tributável de R$ 2 milhões, e depois a alíquota de 27,5%, chegando ao valor devido. Se fosse arrendamento, seria a alíquota sobre os R$ 10 milhões. Dá uma diferença significativa. O problema é que, efetivamente, deve haver um contrato que espelhe características de uma parceria não só no papel. Senão pode existir questionamento da Receita.
ConJur — O Código Florestal foi criticado tanto por ambientalistas como por ruralistas. Qual é sua opinião?
Fabio Calcini — O que me preocupou sempre e o que eu vejo como reprovável é que tínhamos uma legislação e uma conduta sendo praticada, até com incentivo do Estado, que depois passou a não ser considerada como a mais correta. Quiseram, no presente e futuro, mudar o passado. Nós tínhamos discussões jurídicas que não entendiam dessa forma. Concordo que o meio ambiente deve ser resguardado, mas não pode ser tido como algo 100% inabalável, porque eu tenho que conciliá-lo com outros princípios e direitos. Não se pode impor condutas agora reprovando atos praticados no passado.
ConJur — Mas há as consequências ambientais.
Fabio Calcini — Com a economia não tem jeito. Talvez seja lindo tudo verde com produtores rurais pequenininhos, plantando milho, ou tendo uma vaquinha. A nossa sociedade é uma sociedade massa, ela precisa de produtividade, de bastante boi, de bastante cana, de bastante soja. Então eu tenho que tentar é conciliar tudo isso, acho que não pode é ter o exagero.
ConJur — O Código Florestal implicou alguma mudança no Imposto Territorial Rural?
Fabio Calcini — A legislação do ITR perdura desde 1996 , sendo que o novo Código Florestal não causa um impacto significativo. Mas há alguns pontos a serem discutidos como, por exemplo, a influência que Cadastro Ambiental Rural vai gerar na apuração do ITR. É esse cadastro que delimita as áreas que não são tributáveis.
ConJur — Há queixas recorrentes de divergências nas medidas para cálculo do ITR. Como sanear isso?
Fabio Calcini — De certa maneira, o georreferenciamento regularizou essas questões. O que se discute muito está mais em relação às áreas ambientais: se existem, quais são, se são isentas, se foram cumpridos os requisitos para não tributar, além do próprio valor tributável da terra nua. De um tempo para cá, tivemos uma minirreforma tributária que, entre as alterações, permitiu a delegação para os municípios para a cobrança e arrecadação do ITR. Diante disso, com as regulamentações que vieram, os municípios, na grande parte, têm feito convênio com a Receita. Isso tem gerado , uma mudança significativa no valor da terra nua, que é a base de cálculo para a tributação do ITR. O Carf e o Judiciário têm dado boas decisões quando o contribuinte demonstra, por documentos, que o valor da terra nua não é aquele que a Receita arbitrou.
ConJur — Há uma controvérsia sobre quem deve pagar o Funrural. Qual é a opinião do senhor?
Fábio Calcini — Tecnicamente, todos os produtores rurais sofrem a tributação, seja o segurado especial, seja o empregador pessoa física. Na prática, porem, em razão da sub-rogação, eles não apuram e não recolhem como regra, porque o adquirente faz isso. Quanto à tese de inconstitucionalidade, seja o segurado especial, seja o produtor empregador, as duas discussões estão no Supremo ainda aguardando decisão final em repercussão geral, embora já exista uma decisão anterior sobre o tema deste tribunal. Porém, a discussão tende a ser muito mais forte e há uma grande probabilidade de inconstitucionalidade no caso do produtor rural pessoa física empregador. Isso porque a Constituição não autorizou essa substituição da folha pela receita, ao contrário do segurado especial, algo que é expressamente autorizado.
ConJur — O senhor acha que o Supremo deve decidir de que forma?
Fábio Calcini — Eu já tenho trabalhos escritos sustentando a inconstitucionalidade. Quando se fala do empregador rural pessoa física, com toda clareza, seja pelo bis in idem, como também pela interpretação “contrario sensu” do artigo 195, parágrafo 8º da Constituição. Se o parágrafo oitavo diz “para o segurado especial, é possível cobrar sobre a receita bruta pois atua em regime de economia familiar e não tem empregados permanentes” o que isso significa? Para quem não é segurado especial, tem que cobrar sobre a folha. Esse é um primeiro argumento. O segundo é o próprio bis in idem, porque eu já tenho a Cofins, que já visa a seguridade social e é cobrada sobre a receita bruta. Além disso, temos ainda discussões sobre a própria igualdade, pois está havendo distinção na tributação entre o urbano e o rural. Existem outras questões que podem ser enfrentadas, mas o Funrural não se resume a essa discussão. Além do produtor rural, a pessoa jurídica também recolhe sobre a receita bruta e não sobre a folha. Essa discussão também está no Supremo.
ConJur — O Brasil é muito criticado pelo que afirmam ser medidas protecionistas em favor do setor agrícola. Elas são necessárias?
Fábio Calcini — A tributação do agronegócio realmente tem exonerações e isenções. Mas é um contrassenso dizer que há protecionismo num país em que a carga tributária chega a 37% do PIB e os juros são altíssimos para financiar a atividade. Em outros países existem vários outros incentivos, não só fiscais, mas de financiamento. Então eu não vejo que o Brasil, nesse ponto, pratique medidas totalmente protecionistas. Pelo contrário. O agronegócio tem que ser ainda muito mais incentivado, inclusive para que sua cadeia fique um pouco mais longa, para que a gente não exporte tanto produto in natura, mas produtos com valor agregado. Não basta zerar o PIS e a Cofins na ponta. Tem que desonerar o fertilizante, o combustível, o maquinário…
ConJur — Os programas de parcelamento como o Refis têm funcionado?
Fábio Calcini — Foram medidas importantes, mas o problema é que as discussões tributárias ficam nos tribunais superiores muitos anos. O contribuinte não tem uma expectativa adequada se vai perder a causa e se o parcelamento compensa. Isso é ruim. Uma empresa ter de esperar 10, 15 anos para avaliar se uma dívida é devida ou não — e, depois, o mesmo tempo para receber em precatórios — não é nada produtivo para a economia e para a segurança jurídica. Por isso são importantes institutos como a Súmula Vinculante e a Repercussão Geral. Aliás, acreditamos que na atual conjuntura seria relevante o Governo Federal pensar em novo no plano de parcelamento, pois tenho notado muita dificuldade dos empresários cumprirem suas obrigações fiscais.
ConJur — E as decisões estão sendo boas para o setor?
Fábio Calcini — Matéria tributária é muito sazonal e estamos em uma fase muito equilibrada. Não faz muito tempo que o STF rejeitou a inclusão de ICMS na base de cálculo no PIS/Cofins na importação e o contribuinte ganhou. Na contribuição de 15% sobre a nota fiscal da cooperativa de trabalho, também o contribuinte saiu com a vitória, assim como na cobrança da taxa da Suframa. Para o setor do agronegócio, diante da vocação exportadora, tivemos a impossibilidade de tributação do PIS/Cofins na variações cambiais positivas, além de no STJ decisões a respeito do insumo no PIS/Cofins. Todavia, ainda temos muitas discussões relevante no setor aguardando repercussão geral no STF.
ConJur — O que levou tantas usinas a entrar em recuperação judicial?
Fábio Calcini — Foram vários fatores. Nós tivemos um período muito grande em que a Petrobras congelou os preços da gasolina, algo que o álcool está atrelado. Isso é o principal. Tanto que há um debate muito grande no setor de ingressar com ação visando indenização por causa da fixação de preço. Mas também tem o alto custo operacional das usinas, além dos juros altos do mercado e questões climáticas como períodos de seca. Isso ainda se soma, em alguns casos, a problemas de gestão ou falta de conhecimento do mercado.
ConJur — O cadastro ambiental rural vem sofrendo várias prorrogações. Acha que ele vai facilitar a vida do produtor?
Fábio Calcini — A tendência é que ele venha a facilitar, porque é importante você ter um cadastro ligado ao georreferenciamento, com elementos, que permita um melhor controle da delimitação das terras. Eu já tive histórias das mais esdrúxulas possíveis. Um cliente em Goiás, por exemplo, sofreu cobrança de ITR de uma terra que não existe e a gente está brigando na Justiça até hoje para provar isso. Acredito que o CAR, o georreferenciamento, a informatização, podem gerar uma melhor qualidade nessas questões.
ConJur — O senhor cita várias decisões do Carf, onde já foi conselheiro. Mas o índice de vitórias da Receita é muito maior.
Fábio Calcini — Não é fácil ganhar no Carf, tem que ter uma boa discussão, um bom trabalho técnico. A vantagem é que o Carf tinha uma informalidade para o debate, uma abertura, uma transparência para discussão que ainda não existe no Judiciário. Como os julgadores eram mais técnicos, mais familiarizados com o Direito Tributário, isso ajudava muito. O contribuinte não saía vitorioso em todo e qualquer caso. Em muitos casos, tecnicamente corretos, o contribuinte perdeu, infelizmente, pelo famoso voto de qualidade, que é algo reprovável, na minha visão.
ConJur — O que o senhor espera do conselho em sua retomada?
Fabio Calcini — Desejo que o Conselho cumpra sua função de garantir o devido processo legal e o respeito à lei, independentemente de qual parte será vencedora. Nesta retomada dos julgamentos é possível notar um certo afogadilho, talvez pelo período que as sessões ficaram suspensas. Espero que seja temporária esta situação. Tenho também muita esperança que os novos e antigos conselheiros, dada a qualidade técnica e dedicação que tenho notado, cumpram a missão que lhes foram outorgadas. Naturalmente, o momento é um pouco delicado, pois, em alguns momentos, podem não estar familiarizados com todos os temas, mas, nesta situação, o importante é se pautar pelas decisões e jurisprudência que já estava sendo construída, até em respeito à segurança jurídica.
ConJur — Acha que a Justiça do Trabalho coloca em risco o emprego no campo?
Fabio Calcini — Os auditores do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho muitas vezes têm uma visão um pouco míope da realidade do campo. Pessoas que, muitas vezes, nunca pisaram na área rural, não conhece a evolução que o setor viveu nos últimos anos e julgam de uma forma meio desproporcional, quase como justiceiros. Algumas vezes até levantando a ideia de trabalho escravo.
ConJur — Falta até uma conceituação sobre isso…
Fabio Calcini — Não há definição. É conceito aberto e, convenhamos, muitas vezes, há um certo exagero. Hoje o trabalhador rural tem equipamentos, acesso a um banheiro específico. Eventualmente, uma infração à legislação trabalhista, não pode ser utilizada com tamanho rigor porque é muito mais fácil uma empresa urbano cumprir certas regras do que a que está num ambiente rural, onde o acesso é mais difícil.
ConJur — Falta conhecimento do trabalho no campo?
Fabio Calcini — Até há dedicação uma do setor em buscar cumprir a legislação trabalhista, mas por cultura dos próprios empregados, por essas dificuldades até de logística ou até por uma questão da legislação ser um pouco exagerada, não se obtêm 100% do êxito. No geral, as condições de trabalho no setor são muito bem adequadas.